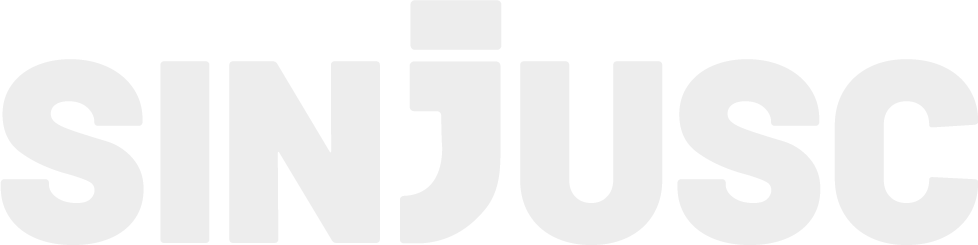Por Neto Puerta e Rossano Bastos
Mais um assassinato pela polícia estadunidense eclodiu um aumento das manifestações do “Black Live Matter” (Vidas Negras Importam). Desta vez, um homem negro foi morto com sete tiros pelas costas ao entrar no seu veículo, onde estavam seus três filhos (o fato foi filmado).
Prontamente, atletas no beisebol, futebol americano e basquete (masculino e feminino), que já estavam em protesto pelo assassinato sistemático da comunidade negra (nos Estados Unidos eles fala comunidade – “my community”), e que veio à tona com o enforcamento/estrangulamento de George Floyd, pararam seus treinamentos e as competições. Sim, pararam. Mesmo com seus altos salários e contratos milionários eles pararam.
Inclusive, eles estavam jogando sob condições impostas por eles, como liberdade total e absoluta para abordar o racismo na imprensa, inscrições antirracistas em camisetas durante os jogos e nas quadras e atos simbólicos contínuos, como cantar o hino nacional ajoelhados.
Com mais um episódio de assassinato, houve nova paralisação das atividades e participação maciça dos atletas nas redes e TV falando duramente sobre o tema. Basta!
Um ponto importante a se considerar é que os jogos da NBA e da WNBA estavam sendo realizados num local único, que eles chamam de “bolha”, localizada na Disney, em Orlando. Isso fez com que os/as atletas estivessem no mesmo local. Esta junção transformou a “bolha” em assembleia permanente.
Reuniões e debates seguem a todo instante. Eles tomaram as rédeas da situação, já que o status quo branco e que trata o esporte como mero entretenimento e lazer movia-se de maneira muito lenta, incapaz de impedir a continuidade da matança da comunidade negra.
Na sua maioria são atletas multimilionários (e aqui já é possível fazer um recorte, pois as atletas do basquete feminino não têm a mesma valorização). Também não queremos entrar nas contradições sobre o mundo do esporte de elite, pois, sim, elas existem. A questão aqui é outra e vale sim a nossa reflexão.
O que tudo isso tem a ver conosco? Tudo. Em primeiro lugar, porque o racismo também é estrutural no Brasil e mata diariamente pessoas negras nas periferias, sobretudo pelas forças do Estado.
E é aqui que cabe a reflexão, vejamos: a razão é a verdade do sujeito na política da modernidade. Por sua vez, essa política é o exercício da razão na esfera pública. Com o avanço sistemático do biopoder, onde os atributos da soberania estabelecem o domínio sobre a vida, sobre o qual o poder estabelece um controle e passa a definir quem vive e quem morre. Por conseguinte, o racismo tem um lugar de proeminência na racionalidade do biopoder. Entender este genocídio como uma política de Estado, pressupõe entender que o biopoder se utiliza das instituições governamentais para sua execução, aqui incluído o Poder Judiciário.
Em segundo lugar, porque as pessoas atingidas se movimentaram para impedir que fatos semelhantes não voltem a acontecer nos EUA. Um ato de resistência, de basta! E, aparentemente aqui, seguimos matando pobres, negros e indígenas sem que exista uma manifestação semelhante à dos EUA, sobretudo por parte dos nossos indivíduos de visibilidade pública, da sociedade organizada em partidos, movimentos sociais, ONGs, e as instituições governamentais que deveriam se ocupar de impedir tais massacres.
Para entender essa aparente apatia, é preciso investigar a imprensa hegemônica, que, muito embora se manifeste com consternação, não é capaz de trazer reflexões sobre o sistema de metabolismo social pautado no capital, o qual permite que o poder estabeleça um controle sobre a vida de determinados grupos sociais.
Assim, nosso instrumento de visibilidade perde potência. Torna-se superficial. Pesquisas no campo das ciências sociais mostram que ao contrário da passividade (ou não tão aguerrida mobilização das pessoas com visibilidade), a periferia se move em torno dos acontecimentos tentando colocar luz sobre o genocídio. Moradores fecham ruas pedindo ações protetivas efetivas do Estado contra esta violência. Evento recente, das lideranças indígenas, que já entenderam a dinâmica dos órgãos de imprensa, e as instituições estatais no Brasil, foi denunciar na Europa o descaso proposital com sua saúde da pandemia, e com a invasão dos seus territórios demarcados, o que acrescenta no nosso caso o genocídio indígena. Contra estes grupos, as forças policiais tem sistematicamente criminalizado e reprimido com ações violentas as manifestações da periferia, dos pobres, dos negros, que querem uma vida digna sem violência e com saúde, moradia e educação.
Por mais que personalidades tenham (e continuam) se manifestado aqui no Brasil, não é possível falar em assembleia permanente, em reuniões periódicas e debates entre as personalidades para que isso ganhe a visibilidade que merece.
Se nos Estados Unidos existe um ataque sistemático contra a população negra, o que se repete no Brasil é a mesma coisa, acrescentando-se o viés colonial. Aqui, a guerra contra os negros, indígenas, refugiados e pobres, é uma guerra colonial, onde não está sujeita a normas legais e institucionais. Retira-se de determinados grupos a possibilidade de uma codificação dentro do estado de direito. Por isso, aos massacres, chacinas, despejos de vulneráveis, assassinatos da população em situação de rua não se aplica o império da lei.
Partindo para uma situação mais pontual e, sim, dentro de um contexto amplo e estrutural, menos grave (em absoluto, a intenção não é comparar), o serviço público está sob ataque constante e permanente. Este ataque é calculado e pensado como uma politica de enfraquecimento cada vez maior das funções do Estado, buscando que o serviço prestado a população seja cada vez pior, por meio do sucateamento das estruturas e a perseguição aos trabalhadores do serviço público. Com isso, roubam dos servidores a potência de lutar por uma sociedade mais justa.
Importante ressaltar que há uma construção histórica de demonização de tudo que é público, incluindo-se as pessoas que nele trabalham (os corruptos, preguiçosos e privilegiados). De outro lado, a veneração daquilo que é privado (os incorruptíveis, os que carregam o piano, os que sofrem, os heróis).
É possível reconhecer isso quando o editorial do O Globo, ou um instituto que congrega grandes corporações, diz que reduzir o salário do funcionalismo público é uma medida adequada, acrescentando que injusto os “servidores não a sua parcela”. A ideia é de culpabilização pelos problemas econômicos do Estado. Trata-se de discurso orquestrado e representa uma escolha de atuar em prol das grandes corporações e desmantelar o Estado e, por conseguinte, o sistema de proteção social. Importante destacar que não existe como fortalecer a saúde e educação, fragilizando o serviço público.
Não temos “grandes personalidades” no serviço público. Não somos atletas famosos, atores e atrizes como termos uma visibilidade pública fulminante e imediata. No nosso caso, é necessário que nos reconheçamos como parte da solução para termos um País melhor. Não somos os vilões da história, assim como não sãos os negros, pobres e periféricos.
É preciso reconhecer o nosso lugar para que possamos reagir a isso.
A questão fundamental que nos ocupa é como operar uma ação que leve a desalienação dos sujeitos (de nós mesmos), para que rompam com a sua subalternidade e se veja implicado com o seu tempo e seu povo. Aqui esta a verdadeira (e difícil) missão de um sindicato combativo e plural.