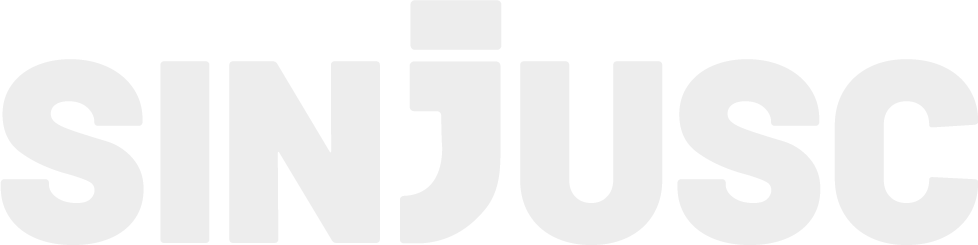Por: Por Marcos de Vasconcellos/ Conjur
Ao nomear o procurador Wellington César Lima e Silva como ministro da Justiça, o governo federal trouxe à tona um problema que ocorre em diversos estados: a nomeação de membros do Ministério Público para cargos no Executivo. A análise é feita pelo desembargador federal Fábio Prieto, que já foi promotor. Ele é direto ao analisar o caso: só há um jeito de a nomeação ser constitucional, que é mudar a Constituição Federal.
“Depois de 1988, não cabe afastamento de promotor de Justiça. Prevaleceu a tese de que o MP é público e do público. Não dos partidos políticos ou dos promotores”, afirma Prieto, lembrando que a questão foi debatida durante a Assembleia Constituinte. Sua crítica não é específica ao governo do PT, uma vez que ele faz questão de lembrar que outros governos também têm levado membros do MP para secretarias.
O ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região é um crítico severo, aliás, do que classifica como excesso de cargos distribuídos a membros do Judiciário, promotores e procuradores. Com isso, criou-se uma “magistratura-funcionária”, que permite a existência de juízes que não dão sentenças.
O afastamento das funções jurisdicionais é permitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. No entanto, os próprios conselhos são estruturas viciadas na avaliação do desembargador. Para ele, o CNJ ficou sem força para fazer o que deve. “Virou órgão de representação, de fácil captura pelo poder das corporações.” A solução, a seu ver, é extinguir o órgão, para que seus conselheiros e funcionários voltem aos cargos de origem e atendam ao jurisdicionado, que é o serviço para o qual são concursados.
A cooptação do poder por entidades e sindicatos é um dos pontos chave para entender o movimento que se instaura nos conselhos. O chamado “assembleísmo” é um dos males a ser combatido no Judiciário e no MP, para acabar com o modelo de burocracia corporativa, diz Prieto. Para ele, o modelo é baseado na demagogia, que classifica como a antítese da democracia. Nas democracias, explica, Judiciário e Forças Armadas são os chamados órgãos garantidores de última instância. “Quando a democracia é vilipendiada no mais alto grau, o juiz é chamado. Quando já não é possível a solução pelo Judiciário, entram as Forças Armadas.” Assim, não cabe transformá-los em órgãos submetidos a estruturas burocráticas de sindicatos.
Promotor de Justiça de 1986 a 1991, o ex-presidente do TRF-3 vivenciou o dia a dia do Ministério Público. Como promotor, inclusive, foi premiado pelo melhor arrazoado forense, em 1989. O prêmio aponta as melhores teses defendidas pelo órgão e, naquele ano, o primeiro depois da nova Constituição, Prieto o recebeu pela defesa que fez do cumprimento de contratos da prefeitura de Santos (SP) com empresas de transporte que estavam em paralização. À época foi também cotado para substituir o hoje ministro Celso de Mello, que deixava a procuradoria em São Paulo.
Leia a entrevista:
ConJur — O senhor foi promotor de Justiça de 1986 a 1991. Como foi a transformação da instituição nesse período?
Fábio Prieto — A transformação do MP, ou dos MPs, começou no governo militar. Um dos pontos do chamado projeto de modernização autoritária.
ConJur — Essa reforma não deve ser atribuída à Constituição Federal de 1988?
Fábio Prieto — A história está registrada nas leis. O governo militar fazia e fez a abertura lenta e gradual. Não desejava abrir mão do Ministério Público Federal como instrumento de contenção da oposição. Então fez a “abertura” dos MPs pelos estados. Criou o “novo MP” com a Lei Complementar 40/81. Compare a redação desta lei com a Constituição. A lei complementar diz inclusive que o MP vai “promover a ação civil pública, nos termos da lei”. Qual lei? A Lei da Ação Civil Pública, editada quatro anos depois, em 1985. Basta dizer que esta lei de 1981 até hoje está em vigor.
ConJur — Qual era o interesse do governo militar no desenvolvimento do MP?
Fábio Prieto — O país deixou de ser predominantemente rural. Criou expressiva base industrial. Crescia a taxas espetaculares. Mas tinha a difícil combinação das nações emergentes: potência econômica, com base institucional frágil. Era preciso ter alguém para empurrar a nova classe empresarial para frente; melhorar os produtos; não sujar o meio ambiente no processo de produção; oferecer serviços de boa qualidade… A máquina estatal de fiscalização era precária ou nenhuma, em alguns setores. A vida comunitária associativa, para a defesa dos direitos, como associações de defesa dos consumidores, era quase inexistente. Então surgiu a proposta de conferir esta tarefa aos Ministérios Públicos.
ConJur — A ideia era aperfeiçoar o capitalismo?
Fábio Prieto — Exatamente. Não havia estrutura institucional para fiscalizar e empurrar o Brasil urbano e industrial para frente. A reforma do MP vem junto com a do Judiciário. O governo militar queria livrar o Judiciário das influências locais, um problema de 500 anos. A ideia era centralizar a magistratura com regime único de direitos e deveres, em órgão de gestão e coordenação em Brasília. Mas o quórum para a reforma constitucional era alto e o governo precisava da oposição.
ConJur — Como saíram as reformas do Judiciário e do MP?
Fábio Prieto — Impostas. A oposição derrubou a reforma do judiciário no Congresso Nacional. Então o presidente [Ernesto] Geisel fechou o Congresso, com base no AI-5, e fez o Pacote de Abril de 1977. Primeiro, no dia 13 de abril, mandou a Emenda 7, com a Reforma do Judiciário e do MP. No dia seguinte, enviou a Emenda 8, que alterou o quórum para Emendas, além de criar os senadores e deputados biônicos. Acabamos com os senadores biônicos, mas os deputados biônicos, frutos da quebra da proporcionalidade, estão aí até hoje.
ConJur — Como assim os deputados biônicos ainda existem?
Fábio Prieto — A proporcionalidade das eleições até hoje não foi devolvida aos cidadãos.
ConJur — Mas a lei orgânica da magistratura só entrou em vigor em 1979?
Fábio Prieto — Esta é outra curiosidade. O Geisel fechou o Congresso para obrigá-lo a decidir um tema que entendia fundamental para o desenvolvimento do país. Normalmente, os governos autoritários fecham o Congresso para impedir a tramitação de propostas de leis. O Geisel, pelo contrário, forçou a discussão por dois anos.
ConJur — E a reforma do MP?
Fábio Prieto — A reforma do MP também está prevista na Emenda 7 e resulta na lei complementar de 1981.
ConJur — O senhor entrou no MP de São Paulo logo após a Lei da Ação Civil Pública.
Fábio Prieto — Exato. Eu era advogado. Não planejava ser juiz ou promotor. Por influência de amigos, acabei inscrito nos concursos do MP e da Justiça estadual. Fiz a prova do MP. Na da magistratura, nem compareci. Acabei virando promotor de Justiça por acaso. Foi uma experiência excepcional e gratificante. Fui testemunha involuntária de alguns fatos históricos.
ConJur — Pode citar alguns?
Fábio Prieto — Quando eu era promotor de Justiça substituto, fui procurado por um grupo quase clandestino de promotores, que eram amigos do promotor mais antigo da capital. Disseram-me que ele iria se afastar das funções. E alegavam que ele era o mais brilhante promotor de Justiça da história da instituição, mas também o mais perseguido. De modo que, diziam, a cúpula iria designar um substituto sem muito compromisso com o trabalho, para “criar um caos” na promotoria, para que ela estivesse em péssimas condições quando fosse reassumida pelo mais antigo. Os amigos do substituído queriam alguém para trabalhar direito e não deixar o órgão virar uma bagunça por boicotes pessoais.
ConJur — E quem era esse promotor?
Fábio Prieto — José Celso de Mello Filho, hoje ministro decano do Supremo Tribunal Federal, que é um orgulho para a nação.
ConJur — E o senhor substituiu o então promotor Celso de Mello?
Fábio Prieto — Não. Fiquei muito contente de ser lembrado. Quem me indicou para a “missão clandestina” foi uma funcionária da biblioteca que o MP mantinha no Fórum João Mendes. Eu era leitor assíduo. E a funcionária que atendia o Ministro Celso, e os amigos dele, soube do problema da substituição. Mas dizem ainda que ela fez questão de dizer que, ao contrário do ministro Celso, sempre muito organizado nas leituras, eu era completamente indisciplinado. Lia livros sobre qualquer assunto, sem fazer anotações, um hábito até hoje.
ConJur — Quem substituiu o ministro então?
Fábio Prieto — Eu havia sido convidado para assumir uma promotoria de muito prestígio e não podia voltar atrás. Então indiquei uma promotora de Justiça séria e trabalhadora, que passou no crivo dos amigos do ministro Celso. A Mabel [Tucunduva], com quem me casei depois.
ConJur — E o ministro Celso de Mello nunca voltou para a promotoria…
Fábio Prieto — Não. A vida também é acaso. O ministro Celso era o promotor número 1 na antiguidade da capital, mas só se inscrevia na promoção pelo critério de merecimento. E foi prejudicado e boicotado várias vezes. Os amigos dele brincavam que a perseguição ao Celso, como o chamavam, ainda rendia a promoção de “nulidades excelsas”. A vida lhe fez justiça suprema, levando ele ao cargo que merece.
ConJur — O senhor mencionou o afastamento do ministro das funções ministeriais. Temos agora a polêmica sobre o tema, com a nomeação do ministro da Justiça Wellinton César Lima e Silva…
Fábio Prieto — É verdade. Mas não há polêmica. Há desrespeito à Constituição e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ao menos enquanto não mudarem a Constituição. O descumprimento é obra de vários partidos políticos, em diferentes níveis de governo.
ConJur — O Conselheiro Otávio Brito Lopes, do Conselho nacional do Ministério Público, concedeu liminar para permitir a nomeação e ampliar “o diálogo entre o Ministério Público e as demais instituições políticas, contribuindo para a consolidação de uma Administração Pública verdadeiramente participativa e pluralista”. O senhor concorda?
Fábio Prieto — Vamos aguardar o STF se manifestar a respeito. Há a jurisprudência pacífica, que preserva o Ministério Público de cooptações indesejáveis.
ConJur — Qual é a sua perspectiva?
Fábio Prieto — É evidente que é muito confortável para os partidos políticos, para todos eles, ter um profissional excelente, como é o promotor de justiça, ao lado. Mas a Constituinte debateu isto exaustivamente. Depois de 1988, não cabe afastamento de promotor de Justiça. Prevaleceu a tese de que o MP é público e do público. Não dos partidos políticos ou dos promotores. Houve uma solução de compromisso para quem tomou posse antes da Constituição.
ConJur — O senhor é um crítico dos afastamentos em geral de juízes e promotores.
Fábio Prieto — Peguei alguns “cacoetes” do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio neste assunto. O Judiciário e o Ministério Público, no que diz respeito à faixa de remuneração superior dentro do Estado brasileiro, são os dois maiores responsáveis por desvios de função. Há centenas de juízes desviados de suas funções. Há, hoje, uma magistratura-funcionária, com juízes que não dão sentenças há dez anos.
ConJur — Mas os Conselhos permitem.
Fábio Prieto — Também era permitido perseguir o promotor de justiça José Celso de Mello. Como norma não-escrita, costume. Mas estava errado. A Constituição dá independência funcional ao juiz e ao promotor. Como podem ser subalternos de outros juízes, ainda que desembargadores ou ministros? A lei da magistratura veta isto expressamente. Isso aconteceu porque os concursos públicos não eram muito republicanos. O cidadão virava juiz para ser assessor. No fim das contas, era funcionário com salário e benefícios de juiz.
ConJur — O senhor não teve juiz assessor na corregedoria nem na presidência do TRF-3.
Fábio Prieto — Nem juiz-assessor, nem assessor-juiz. Não é necessário. É só trabalhar.
ConJur — A que o senhor atribui o crescimento do número de juízes afastados da jurisdição?
Fábio Prieto — Ao problema de sempre. A ideia de um órgão central da magistratura foi mantida na Reforma de 2004. Mas o Supremo Tribunal Federal, muito sobrecarregado, não pôde ou não quis assumir a função de conselho. Então foi adotado este modelo de representação, com juízes, promotores e advogados. Mas o CNJ ficou sem força para fazer o que deve. Virou órgão de representação, de fácil captura pelo poder das corporações.
O Conselho Superior da Magistratura da Reforma de 1979 também não funcionou. Mesmo integrado pelos ministros do STF, houve muita reação local. O governo militar já estava no fim. Perdia eleições nos lugares chamados de mais desenvolvidos. E dependia, cada vez mais, dos setores atrasados, que não tinham interesse em uma magistratura independente e autônoma.
ConJur — E qual é a solução?
Fábio Prieto — Reformar a reforma. Acabar com estes quatro conselhos — Conselho Nacional de Justiça; Conselho da Justiça Federal; Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Conselho Nacional do Ministério Público. O Brasil é o único país do mundo em que o contribuinte paga por quatro conselhos. O ministro Lewandowski tem dito que o CNJ tem 800 servidores. Se somos, em números aproximados, 16 mil juízes, já temos o maior, e certamente o mais caro, sistema de fiscalização do mundo. Temos que voltar a um conselho, com ministros do STF. Agora na democracia.
ConJur — O senhor tem dito algumas vezes que assembleísmo corporativo não é democracia. Por que esse tema tem sido tão discutido?
Fábio Prieto — Os livros de história e política é que dizem. Quem colocou o assembleísmo nos MPs estaduais foi o governo militar, com a intenção de diminuir a força dos poderes locais. Esta boa intenção degenerou em assembleísmo negativo. A cada eleição, são escolhidos promotores de Justiça mais jovens. É óbvio. Os MPs lembram o meu tempo de política estudantil, quando estávamos sempre em “assembleia permanente”. A diferença é que o centro acadêmico não pagava “atrasado” na véspera de cada eleição.
ConJur — O próprio Ministério Público Federal criou a sua lista tríplice…
Fábio Prieto — Não. Foi uma associação. E isso é uma violação à Constituição e à democracia que está depositada nas mãos do povo brasileiro. O povo elege o presidente da República para escolher livremente os altos cargos da nação, inclusive o procurador-geral da República. As associações não podem participar dessa escolha, pois os agentes políticos da entidade têm poder de Estado, que o eleitor brasileiro não tem. Assim, fica absolutamente desigual.
ConJur — Qual é a sua sugestão?
Fábio Prieto — Respeitar a Constituição e a democracia colocada na mão do povo brasileiro. E lembrar o Raízes do Brasil, do Sergio Buarque de Hollanda. Ele diz que a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal entendido.
ConJur — Mas não deve haver democracia no Poder Judiciário?
Fábio Prieto — Qual? A direta, real, com o povo? Esta ninguém quer. Não aceitam nem o voto dos servidores ou dos advogados. Que democracia é esta?
ConJur — Qual é o modelo ideal, então?
Fábio Prieto — O da democracia. Não a da burocracia corporativa. Nas grandes democracias do mundo, Judiciário e Forças Armadas são os chamados órgãos garantidores de última instância. Quando a democracia é vilipendiada no mais alto grau, o juiz é chamado. Quando já não é possível a solução pelo Judiciário, entram as Forças Armadas. É só ler a Constituição. E os jornais.
ConJur — E por que os juízes não podem ser eleitos para administrar os tribunais?
Fábio Prieto — Pela mesma razão que o jovem jornalista que acaba de chegar à redação, não é chamado para dirigir a sua empresa de comunicação. A empresa precisa formá-lo antes. É a ordem natural das coisas inteligentes. O juiz coloca o servidor menos experiente para chefiar a administração da secretaria da Vara? Ademais disto, para que sejam garantidores da democracia, o Judiciário e as Forças Armadas são afastados dos procedimentos tipicamente democráticos. Não fazem parte do jogo. O Brasil quer democracia real? Deve respeitá-la nas suas instituições. E, sobretudo, deve acreditar no povo. Esquecer a conversa dos burocratas corporativos e sindicalistas de toga. Vamos fazê-los trabalhar nos processos e acabar o barulho nos corredores.
ConJur — O senhor sustenta que há uma sindicalização do Judiciário?
Fábio Prieto — Em parte, sim. A maioria do que eu chamo de magistratura silenciosa e trabalhadora, que leva o bom nome do Judiciário, já não aguenta mais os relatórios, obrigações, aulas precárias e toda a estrutura burocrática criada pelos que ficam passeando nas assessorias. Como corregedor e presidente do maior tribunal federal do país, cansei de ouvir estas críticas justas dos magistrados. Eles querem trabalhar em paz.
ConJur — O senhor acha que há muitas associações de juízes?
Fábio Prieto — Com certeza. Há associações com 15 ou 20 juízes. E a primeira coisa que o presidente faz é se afastar das funções, deixando o serviço pesado para o colega que ele diz que vai defender. O CNJ diz que os tribunais não podem avaliar estes pedidos de afastamento. São automáticos. Se fundarmos uma associação com 25 juízes e eu ganhar a eleição por 13 votos contra 12, fico dois anos ganhando salário sem trabalhar. Com 100 milhões de processos no Judiciário Brasileiro. Há juízes que são assessores do tribunal a que estão vinculados. Depois, passam para a associação de juízes. Depois, vão ser assessores em Brasília. Tudo intercalado com curtas e instrutivas viagens ditas de estudos, no exterior. Os juízes trabalhadores devem cumprir a carga maçante de cursos precários nos próprios tribunais. E há vários assessores que viraram conselheiros. Eles criam obrigações para os juízes que ficam trabalhando. Ninguém sabe quantas resoluções e provimentos saíram destes conselhos. É preciso dar um basta nisto. Para o bem do país, da magistratura e do Ministério Público.