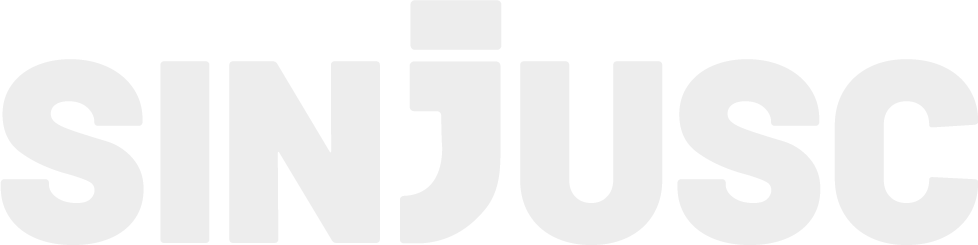Por Iris Gonçalves Martins – advogada e militante de coletivos feministas da Grande Florianópolis
Iniciei minha carreira como advogada no exato ano em que a Lei de combate a violência doméstica, conhecida como Lei Maria da Penha, entrava em vigor no país. Peguei minha “carteirinha” em Maio e em Agosto quando eu completaria 31 anos de idade a lei entrou em vigor. Era o ano de 2006, e já se passaram 12 anos.
Quando iniciei o trabalho como advogada de famílias, não imaginava o quanto minha vida seria impactada pelas situações das mulheres que eu viria a atender.
O atendimento prestado as mulheres para o Direito de Família mudaria a minha vida para sempre, isso porque costumo dizer que de dez mulheres que atendo, com demandas da vara de família, no relato de pelo menos nove e meia é possível identificar algum tipo de violência.
Em razão disso a situação das mulheres na sociedade e as singularidades das violências sofridas por elas passou a ser o meu objeto de estudo. E para além disso passou a ser minha razão de viver. Profissional e socialmente direcionei a minha vida a observar a questão das mulheres.
E por que? Os motivos são inúmeros e talvez seja impossível numerá-los, mas o principal deles é a violação dos direitos das mulheres. Violações das mais diversas formas e tipos, nos mais variados graus, de forma sutil ou latente, não poucas vezes em mais de uma situação e mais de uma vez.
Foi assustador constatar a significativa quantidade de mulheres que vivem em situações de violências por anos.
Importante dizer que a Lei Maria da Penha em seu artigo 7º caracteriza as mais variadas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo dentre elas a violência física, a violência psicológica e emocional, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral.
Aqui cabe lembrar que o Brasil apesar de ter uma legislação de proteção a mulher bastante sofisticada, uma das melhores do mundo, copiada por diversos países, que chama a responsabilidade todos os setores da sociedade, como diz o parágrafo 2º do artigo 3º, “cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput”, ainda estamos muito a quem do que pretendia a lei: coibir e erradicar de uma vez por todas as violências sofridas pelas mulheres.
O que prova o quanto não basta uma legislação de excelência, é preciso avançar e fazer mudanças radicais na sociedade. É preciso reivindicar mudanças sociais, culturais e principalmente mudanças na educação dos sujeitos, buscando mecanismos para combater o machismo e diminuir as desigualdades de gênero, o que, via de consequência, diminuirá as violências praticadas contra as mulheres.
Ao que o sistema jurídico também deve acompanhar essas mudanças. Assim, faz-se mais que importante reivindicar mudanças radicais na estrutura do judiciário como um todo.
É preciso que os operadores do judiciário entendam as raízes das violências perpetuadas contra as mulheres, situações de opressão, violências, submissão, misérias financeiras, desigualdades, silenciamentos, desmerecimentos, descréditos, limitações, manipulações, controle, e tantas outras peculiaridades vivenciadas pelas mulheres em seus cotidianos.
Entender, por exemplo, porque algumas mulheres se mantem em situação de violência não poucas vezes por longos anos.
E são os estudos feministas, enquanto teoria de leitura de mundo, que minimamente conseguem ventilar respostas para questões como essa.
Então, profissionalmente, passei a aproximar o feminismo da lida com mulheres em situação de violência. A ideia é impactar o Direito com teses feministas. Com teses que explicam o mundo pela ótica dos estudos feministas. Trazer para os casos concretos respostas que o feminismo enquanto teoria tenta elaborar.
Explicar por exemplo, da importância do atendimento das mulheres em situação de violência junto a autoridade policial ser feito por servidores preferencialmente do sexo feminino. Inclusão, bastante festejada pelo movimento feminista, do artigo 10-A, na lei Maria da Penha, feita pela lei 13.505 de 08/11/17.
Tentar entender porque uma sociedade como a brasileira precisa de um artigo de lei que garanta à mulher em situação de violência doméstica e familiar, seus familiares e testemunhas, que não tenham contato direto com o agressor, a fim de evitar, por exemplo, que vítima e agressor sejam levados à delegacia na mesma viatura. Inclusão do Artigo 10-A parágrafo 1º II, na lei Maria da Penha, feita também pela lei 13.505 de 08/11/17.
Aqui lembrar da morte brutal de Laís Andrade Fonseca, 30 anos que levada a delegacia na mesma viatura que o agressor, foi assassinada por ele a facadas, na cidade de Teófilo Otoni – MG, no dia 07 de outubro de 2017.
O que parece óbvio às mulheres e ao movimento feminista, a saber: não conduzir no mesmo veículo, no caso uma viatura policial, vítima e agressor, não pareceu ser tão óbvio aos policiais que o fizeram, no caso de Laís.
Algumas coisas de fato não são tão óbvias para alguns sujeitos, contaminados pelo machismo e pelos séculos de cultura patriarcal e, portanto, faz-se importante invocar reiteradamente a ótica do feminismo.
Essa cegueira ao óbvio acontece nas relações cotidianas, no dia a dia das mulheres na sociedade. E o judiciário, como reflexo dessa sociedade, também perpetua essa cegueira ao óbvio.
Não poucas vezes encontramos no cotidiano do judiciário, inicias, contestações, manifestações das mais variadas, pareceres, sentenças, reproduzindo essa cegueira ao óbvio. O que prova o quanto o machismo encontra-se estruturado nas instituições, tanto na advocacia, quanto na magistratura, passando pelo Ministério Público, serventuários delegados, policiais, investigadores e etc.
A pouco me depararei com uma contestação em que a parte contrária, genitor, a fim de não pagar obrigação alimentar ao filho menor no percentual que a genitora pretendia, invocou o princípio de igualdade, alegando que pai e mãe deveriam contribuir igualmente com a manutenção do filho menor. Ocorre que, referida tese de “igualdade na manutenção do filho” simplesmente ignorou a desigualdade das partes, no caso, que a mãe tem renda três vezes menor que a do pai.
Trabalhei na tese da desigualdade das partes e saímos da audiência com um acordo para o pagamento próximo ao percentual que a minha cliente pretendia, valor que ajudará a pagar parte do aluguel, parte das compras com supermercado, parte das compras com farmácia, parte das compras com material escolar, parte de todas as despesas para a manutenção do menor.
A pergunta é: caso a genitora não estivesse acompanhada por uma procuradora investida de uma ótica feminista, que invocou a desigualdade da renda das partes, será que a tese da igualdade na manutenção do filho menor não teria prevalecido?
Ouso dizer que sim. Que a falta da apreensão da realidade, de que mulheres tem renda menor do que a dos homens, por exemplo, leva o judiciário a decisões que reiteradamente violam os direitos das mulheres.
Nessas situações me deparo com os seguintes questionamentos:
Está o judiciário preparado para o enfrentamento da lógica machista que norteia e sustenta as desigualdades de gênero latentes no cotidiano da sociedade?
Estão sendo devidamente aplicadas as legislações de combate às desigualdades de gênero? E se aplicadas estão tendo efetividade?
Estão os operadores do direito devidamente capacitados para observarem as desigualdades de gênero, a situação da mulher e os reflexos do machismo e da cultura patriarcal no judiciário e nas instituições? Estão comprometidos com uma escuta para essas demandas? Estão preparados coletivamente para pensar uma resposta a essas demandas?
Estão esses profissionais capacitados para operarem o direito a fim de reverter esse quadro de desigualdades e de combate a violação dos direitos das mulheres.
Aqui ouso dizer que não. E que ainda temos um longo caminho pela frente para mudar esse quadro.
E é justamente por isso que reivindico um judiciário que passe a trabalhar a partir de uma ótica feminista. Um judiciário que busque estabelecer uma relação de equidade perante os casos que batem à sua porta. Um judiciário que avalie as teses feministas apresentadas pela advocacia, de forma a levar em conta seus argumentos. Um judiciário que treine seus operadores para que adquiram conhecimentos construídos pelos estudos de gênero.
Enfim, um judiciário que promova a desigualdade de gênero e o combate a violência contra as mulheres de forma efetiva.
O artigo está originalmente publicada na Revista Valente, uma publicação do SINJUSC.